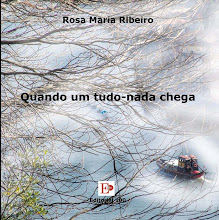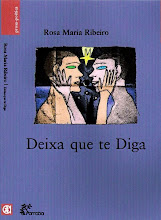Não tinha a lógica dos números que conhecia doutros quartos noutros sítios. Mas tinha uma outra qualquer. Podia ser o quinto quarto dum conjunto de nove, em que as camas eram de uma só pessoa. Assim ficava rodeada de gente sozinha, sem companhia. Pelo menos era uma hipótese. Apostou nessa. Sentiu-se acompanhada.
Despejou em cima da cama tudo o que trazia e abriu as gavetas da cómoda, começou a arrumar tudo metodicamente. Deu por si á procura de estantes. Os livros que iam chegar precisavam de respirar num espaço adequado. Teria de comprar e pôr ali enquanto não encontrasse um sítio adequado para se poder esticar á vontade.
Ficou tudo cheio num instante. Em cima da cama, na colcha agora amarrotada ficaram as marcas de tudo quanto agora se escondera. Ainda havia dois ou três sacos cheios mas não havia pressa. O cansaço apoderara-se dela. Enroscou-se debaixo da colcha que puxou até ao pescoço por culpa dum súbito arrepio e deixou-se dormir mesmo vestida.
Acordou e sentiu a cara molhada. Tinha-se babado. Adormecera de boca aberta. A maldita alergia aos pós que andavam pelo ar taparam-lhe o nariz e não a deixavam respirar em condições. Além da baba tinha a marca da roupa da cama. Sentia-se enrugada. Espreguiçou-se e a súbita vontade de urinar levou-a á casa de banho que ainda não tinha visto a preceito. Apeteceu-lhe o banho. Correu a cortina do chuveiro e desejou uma banheira. Contentou-se com um banho em pé encostada á parede ainda fria deixando-se amolecer pela água em jorro forte e quente. Acabou por se sentar e deixar ficar apertando as pernas com a cabeça em cima dos joelhos. Choveram-lhe as recordações da viagem e do que havia ainda a fazer.
Arrependida
Combinámos encontrar-nos, senti-lhe a urgência na voz. Sabia que alguma coisa não estava bem. Apressei-me. Encontrei-a já á minha espera numa postura impaciente. Senti-a triste, faltava-lhe o brilho que sempre lhe conheci. Mal me deixou falar. Pedia-me ajuda, que a ouvisse…
Não sabia já o que fazia e quando fazia acabava por achar que não o deveria ter feito. Como agora.
Estava já arrependida e olhava-me em súplica como se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás. Arrependida de se ter denunciado.
Dissera-lhe que não entendia como ter-lhe dito das saudades dele o tinha feito perdê-lo.
Como sentir a falta dos risos, das cumplicidades, das horas perdidas em conversas sem rumos, a tinha feito ficar á deriva num mar em que já não navegava com ela.
Do vazio imenso que tinha ficado no lugar que antes enchiam de coisas a eito. Um vazio árido onde faltavam razões.
Uma lágrima teimosa escorre-lhe cara abaixo. Disfarça-a com um trejeito que lhe conheço. Digo-lhe que a deixe correr. Precisa de o fazer. Continua.
Acabou tudo duma forma abrupta como se de repente um precipício se tivesse aberto e tivesse engolido o que era de nós.
Ainda acordo a pensar que tudo pode ser um pesadelo, que pode ser mais um intervalo com uma causa que um dia entenderei e de que não me dei conta.
Fixa o olhar na distância como se a resposta pudesse vir daí, dum qualquer lugar. Deixo-a esperar. Sei que o tempo lhas dará um dia. Mesmo que não sejam as que espera. Virão.
Não sabia já o que fazia e quando fazia acabava por achar que não o deveria ter feito. Como agora.
Estava já arrependida e olhava-me em súplica como se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás. Arrependida de se ter denunciado.
Dissera-lhe que não entendia como ter-lhe dito das saudades dele o tinha feito perdê-lo.
Como sentir a falta dos risos, das cumplicidades, das horas perdidas em conversas sem rumos, a tinha feito ficar á deriva num mar em que já não navegava com ela.
Do vazio imenso que tinha ficado no lugar que antes enchiam de coisas a eito. Um vazio árido onde faltavam razões.
Uma lágrima teimosa escorre-lhe cara abaixo. Disfarça-a com um trejeito que lhe conheço. Digo-lhe que a deixe correr. Precisa de o fazer. Continua.
Acabou tudo duma forma abrupta como se de repente um precipício se tivesse aberto e tivesse engolido o que era de nós.
Ainda acordo a pensar que tudo pode ser um pesadelo, que pode ser mais um intervalo com uma causa que um dia entenderei e de que não me dei conta.
Fixa o olhar na distância como se a resposta pudesse vir daí, dum qualquer lugar. Deixo-a esperar. Sei que o tempo lhas dará um dia. Mesmo que não sejam as que espera. Virão.
Medo de futurar
 Conhecia-se a escrever, sempre o fizera, saía-lhe de dentro como a voz naturalmente. Umas vezes devagar ou em surdina, outras em catadupa ou doutra forma qualquer. Não as continha. Deixava-as livres como o pensamento o era dentro de si. Mergulhava-as no papel enroladas nas letras que aprendera a juntar e fazia-as sinfonia.
Conhecia-se a escrever, sempre o fizera, saía-lhe de dentro como a voz naturalmente. Umas vezes devagar ou em surdina, outras em catadupa ou doutra forma qualquer. Não as continha. Deixava-as livres como o pensamento o era dentro de si. Mergulhava-as no papel enroladas nas letras que aprendera a juntar e fazia-as sinfonia.Eram palavras sem tempo.
Ás vezes de futuro. Dizia-me ás vezes com os olhos abertos de espanto que “futurava”. Porque o sentia e quase tinha medo de adivinhar tempos para vir.
E quando ás vezes pisava de novo as pegadas que um dia escrevera num “dejá vu” vivo e real, perguntava-se até que ponto saberia de si no tempo que estava a crescer.
E ás vezes trocava-lhe as voltas. Escondia-se, baixava a cabeça, fechava os olhos com medo de olhar e deixava-se ficar a ver com os olhos do coração. Só. Guiada pela emoção faria um percurso diferente…
E mesmo assim via-se sempre uma vez mais num sítio onde já tinha estado com quem já tinha falado e a viver o que tinha vivido.
Deixava então de escrever e fechava as portas ao pensamento. Deixava o cansaço abater-se sobre si e enterrava-se em sonos profundos de que não recordava os sonhos.
Procurava-lhe os sorrisos que já não lhe iluminavam o rosto que então era baço e sem vida como se não houvesse propósito em nada. O corpo mantinha-se direito á custa de grande esforço. Tudo lhe parecia pesar e o andar reflectia essa dificuldade.
Porque tinha medo de “futurar”.
...Dizia que a amava!
 Não, nunca lhe deu flores, nem no gesto, nem na intenção.
Não, nunca lhe deu flores, nem no gesto, nem na intenção.E mesmo assim, dizia que a amava!
Por muito tempo, ela, não lho achou necessário. Amava-o sem essas coisas. Perdoava-lhe essas ausências. E outras também.
Esquecia pequenos nadas que ela sempre lembrava. Lembrava nos mimos que lhe deixava. E sorria a esconder a lágrima que vinha teimosa quando sentia que mais uma vez era esquecida.
E mesmo assim dizia que a amava!
Faltava mesmo quando lhe pedia para vir. Mesmo quando era muito preciso. Tinha sempre coisas muito mais importantes.
E mesmo assim dizia que a amava!
E ela acreditava e dava o tempo todo do mundo.
Nos momentos mais importantes não esteve. Nos mais tristes, não esteve. Nos mais felizes, não esteve. E quando estava, já se ia embora.
E mesmo assim, dizia que a amava!
E ela sorria e vivia no pouco que tinha até um dia desistir.
E mesmo assim doeu. Porque o amava!
Dulcilena
 “Dulcilena nasceu num dia de chuva e trovoada. Era um tempo zangado que fazia gemer as portas que a recebia. Lá fora não se ouviam os gritos que a mãe tentava abafar. Fazia-o o tempo por ela.
“Dulcilena nasceu num dia de chuva e trovoada. Era um tempo zangado que fazia gemer as portas que a recebia. Lá fora não se ouviam os gritos que a mãe tentava abafar. Fazia-o o tempo por ela.Nem parecia que na véspera estivera um dia lindo de sol, se bem que abafado...
A mãe beijara o Senhor carregando-a na barriga.
Beijara-O com os mesmos lábios que o pai rebentara com uma palmada que lhe dera no dia em que Dulcilena fora concebida.
Chegara a casa embriagado como sempre. Com sede de mulher. Atirou-se ao corpo estendido e cansado já adormecido na cama que ás vezes partilhava com a mãe de Dulcilena.
Ela gemeu, sacudiu-o com o corpo, com as poucas forças que tinha, até se deixar vencer. Deixou que ele a penetrasse para não ter de lhe suportar o cheiro nauseabundo de muitas bebedeiras por curar.
Depois de freneticamente se saciar, atira-se para o lado e adormece ao som do próprio ronco.
A mãe levantou-se devagar, lavou-se e aninhou-se junto dum dos seus filhos, fruto doutras relações.
Ele deu por falta dela a meio da noite. Chamou-a aos berros. Nunca pelo nome. Por outros nomes. Da rua. Dos que ninguém gosta de ouvir.
Para que não acorde as crianças a mãe de Dulcilena levanta-se apressada tropeçando em quase tudo. Pára na mão aberta que lhe é lançada em fúria pelo companheiro. O lábio abre e o sangue corre.
Nesse mês o sangue da vida não escorrerá. Ficará dentro de si.
Dulcilena chorou o mínimo necessário. Comprovou-se o seu bem-estar e viu-se que era um bebé calmo. Mamou só de manhã cedo aos primeiros raios de sol.
Deu tempo á mãe para descansar e ao pai para dormir e curar a bebedeira sem que incomodasse ninguém.
Foi registada um mês mais tarde e nunca soube a data correcta do seu nascimento. A mãe dizia uma, o registo outra. Celebrava a do registo.
O nome? Era antigo. Não se conhecia igual. Dulce de doce, porque o era. Helena porque a mãe lhe sonhava força e inteligência, a via lutadora. Uma Helena de Tróia. Como ela lembrava dos livros que lia. Via-a doce e forte. Como o é o amor e a vida.”
Subscrever:
Mensagens (Atom)